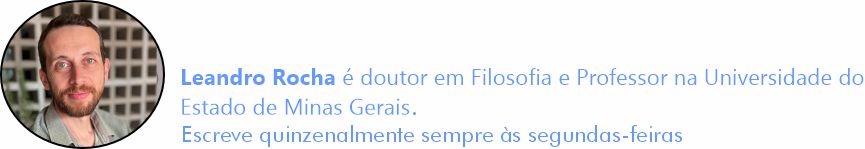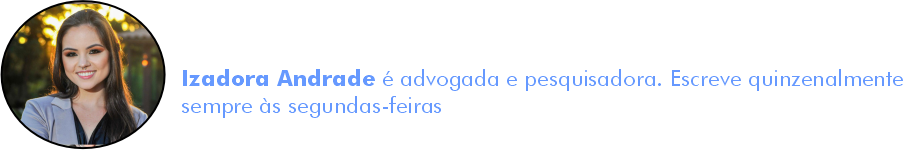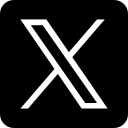Despedidas trazem à tona questões sobre o lugar que a morte ocupa em nossa sociedade moderna
A morte é um tema universal, inevitável, mas também um dos mais complexos de se abordar. A morte de figuras públicas como Silvio Santos, bem como do ator francês Alain Delon, ocorridas no final de semana, traz novamente à tona questões sobre o lugar que a morte ocupa em nossa sociedade moderna. Porém, para entender melhor como chegamos a este ponto, é salutar voltar no tempo e investigar as profundas mudanças culturais que moldaram nossas atitudes em relação à morte. Para isso, recorremos ao historiador Philippe Ariès, cuja obra O Homem Diante da Morte oferece um panorama detalhado sobre as transformações históricas nas representações e experiências do morrer no Ocidente.
No início de sua análise, Ariès explora a maneira como a morte era encarada na Idade Média, um período em que a morte era integrada ao cotidiano das pessoas. A “morte domesticada“, como ele descreve, era uma experiência pública, comunitária e ritualizada. Os moribundos estavam cercados por amigos e familiares, e havia uma aceitação coletiva do fim da vida como um destino natural e compartilhado por todos. A morte era, ao mesmo tempo, temida e respeitada, mas não havia o afastamento ou a negação que vemos hoje.
Essa relação íntima com a morte começou a mudar durante os séculos XVI e XVII. A Reforma Protestante, o crescimento do individualismo e as mudanças nas práticas religiosas alteraram a forma como as pessoas viam a vida e a morte. O ritual coletivo começou a perder força, sendo substituído por uma experiência mais pessoal e introspectiva. Ariès mostra que, com o passar do tempo, a morte foi gradualmente afastada do cotidiano. Se antes a morte era uma experiência pública e compartilhada, aos poucos ela se tornou um evento privado, isolado e institucionalizado.
O ponto alto da análise de Ariès é a noção da “morte proibida“, que se solidifica no século XX. Com o avanço da medicina, a morte foi progressivamente relegada ao ambiente hospitalar, e o morrer passou a ser visto como um fracasso da ciência, algo a ser evitado a todo custo. Essa mudança trouxe consigo uma nova atitude: a negação da morte. A sociedade moderna, segundo Ariès, afastou-se tanto da ideia da morte que, para muitos, ela se tornou um tabu, um evento que não deve ser mencionado ou discutido abertamente.
Essa negação se reflete na maneira como as pessoas lidam com o luto. O luto, que antes era uma expressão pública de dor, foi também reprimido e relegado ao espaço privado. Na sociedade contemporânea, a morte se tornou um tema desconfortável, algo que precisa ser rapidamente superado. A cultura do “prolongamento da vida“, com o uso intensivo de intervenções médicas para adiar o inevitável, é um reflexo desse medo. Como Ariès destaca, o moribundo moderno é muitas vezes afastado do convívio familiar e tratado de maneira impessoal, como se a morte fosse uma anomalia a ser corrigida, e não uma parte intrínseca da existência humana.
A morte moderna também é caracterizada por sua privatização. No século XIX, a burguesia desenvolveu a ideia de uma “boa morte“, que consistia em morrer cercado por seus entes queridos, mas em um ambiente privado e controlado. Essa visão foi ampliada no século XX, quando a morte foi completamente deslocada para o ambiente hospitalar, longe dos olhos da sociedade. Ariès aponta que a morte, que antes fazia parte da vida social, foi institucionalizada, tornando-se uma experiência distante e tecnicista.
Essa privatização, contudo, trouxe consigo um paradoxo. Embora a morte tenha sido afastada do cotidiano, a necessidade de simbolizá-la não desapareceu. Ariès observa que a sociedade contemporânea passou a criar novos rituais para lidar com o vazio deixado pela ausência de uma relação mais direta com a morte. Desde a memória digital até o luto compartilhado nas redes sociais, a morte continua a ser um evento cultural, mas de maneiras muito diferentes das práticas tradicionais.
Outro aspecto relevante da análise de Ariès é sua discussão sobre a relação entre morte e temporalidade. Na Idade Média, a morte era vista como uma transição natural, um evento que fazia parte do ciclo da vida. No entanto, a partir da modernidade, o tempo passou a ser percebido de maneira linear, e a morte tornou-se o ponto final definitivo, marcado pela ruptura total entre vivos e mortos. Ariès sugere que essa mudança na percepção do tempo contribuiu para o aumento do medo da morte, uma vez que a vida passou a ser vista como um único e irrepetível momento, e a morte, como um corte abrupto e final.
Com essa nova concepção de temporalidade, a ideia de “vida após a morte” também sofreu transformações. As crenças religiosas tradicionais, que ofereciam uma continuidade após a morte, foram gradualmente substituídas por uma visão secular, na qual a vida e a memória se tornaram os únicos meios de transcendência. Para muitos, a ideia de ser lembrado por suas realizações na vida passou a substituir a antiga crença em uma vida eterna no além. Ariès destaca que, na modernidade, essa busca por imortalidade através da memória se tornou um novo tipo de consolo frente à inevitabilidade da morte. E, diga-se de passagem, hoje se apresenta como pauta inclusive questões como a possibilidade e limites de um direito ao esquecimento, ou, ainda, questões como a herança digital, para quem ficam as contas em redes sociais, os seguidores de um perfil e outras pegadas digitais de uma vida online.
Se na Idade Média a morte era uma experiência pública e integrada ao cotidiano, a modernidade trouxe o afastamento e a negação da morte, resultando em um paradoxo contemporâneo: embora a morte esteja cada vez mais invisível, ela continua a ser um tema central na cultura, especialmente na forma como lidamos com a memória e o luto.