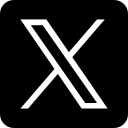Arregalou os olhos. Pareceu-me que a angústia que roía seu cérebro fluía através deles
Hoje, ao andar pelas ruas vazias da cidade, deparei-me, subitamente, com uma garota que era o retrato de uma amiga de infância. Amiga e colega de aula na escolinha da vila onde morávamos. Parei para conversar com ela. Saber se era parente, filha, neta até, talvez da triste Heloísa. A moça olhou-me estupefata. Não, nem sabia quem era esta Heloísa. Mesmo após eu falar o sobrenome ela continuou a me olhar. Meneou a cabeça, negativamente, e continuou seu caminho.
Foi assim que o rosto de Heloísa se acendeu em minha mente. O rosto e ela. A meiga Heloísa que se sentava a meu lado na escolinha de minha vila. Com suas mãos de fada coloria paninhos com fios mesclados com os tons do arco-íris. Por muitos anos guardei comigo um que ela me deu. Era uma menina muito estudiosa. Depois continuamos ainda colegas, por alguns anos, como alunas internas no colégio das Freiras que ficava em uma cidade distante. Ela então já bordava grandes toalhas, pintava telas com tinta a óleo e aprendeu a tocar acordeão. Ela e mais algumas de suas irmãs estudavam no mesmo educandário. Era uma família grande e de muitas posses. Trabalhavam com abate de gado e de aves que vendiam no atacado para um grande mercado e no varejo em um açougue de nossa vila.
Heloísa e suas irmãs não fizeram o curso normal, hoje magistério, que o colégio oferecia. O pai achava que terminar o ginasial já extrapolava os conhecimentos que uma mulher deveria ter; E além do mais precisava delas para ajudar na venda a varejo, nos afazeres da casa, nos cuidados com outros irmãos mais novos.
Continuei meus estudos. Nas férias, eventualmente, nós nos encontrávamos. Quando, porém, entrei na faculdade de enfermagem os estágios tomavam todos os meus dias, mesmo depois de findado o período letivo. Nem folga mais eu conseguia para ver minha família.
Naquela época o curso de enfermagem durava quatro anos. Não se falava em períodos semestrais. No último ano do curso eu precisava fazer estágio em alguma clínica ou hospital psiquiátrico. Destinaram-me uma clínica mais moderna que se situava nos arredores da grande cidade. Eu tinha aulas teóricas de manhã e depois do almoço tomava um ônibus que me deixava nas cercanias da casa de saúde.
Identificação rigorosa na entrada. Meus pertences vistoriados. Risco de se levar qualquer coisa que não fosse do estrito uso do estabelecimento. Meu primeiro dia ali. Acompanhei a enfermeira-chefe na rotina que eu deveria seguir. Tomar os sinais vitais dos internos. Ministrar medicação oral e parenteral. Verificar as dietas. Anotar tudo nos prontuários. E, se fosse requisitada, acompanhar o médico plantonista nas avaliações dos pacientes.
Deram-me um crachá para que lá dentro eu pudesse circular em quase todas as áreas. Exceto em algumas restritas. Estava eu lá já pela minha segunda semana quando, em meu horário de folga, após o lanche da tarde, fui dar uma volta pelos jardins.
Até hoje eu me lembro, com um travo amargo na boca, de minha estupefação ao ver, sentadinha, em um banco, sob a sombra de uma frondosa árvore, a minha amiga Heloísa.
Respirei profundamente. Virei o rosto para o lado. Queria chegar perto dela mas que ela não visse e sequer percebesse as minhas lágrimas. Fiquei em pé defronte a ela. Sorriu para mim. Parecia não me reconhecer.
—Heloísa, sou eu, sua amiguinha de infância, Maria Angélica. Você está passeando por aqui?
Ela continuou a me olhar fixamente. Não falava nada. Claro, eu estava usando óculos, com uniforme branco. Meus cabelos que eram castanhos estavam agora com um tom loiro avermelhado. Comecei a rir para ela e a falar de fatos comuns em nossa infância.
Mas era hora de eu voltar para dentro e cumprir com as minhas obrigações. No momento em que eu a deixava senti sua mão na minha.
—Não me deixe aqui—balbuciava—, leve-me embora com você.
Não era um pedido. Era uma súplica. Que eu não poderia atender. Sorri para ela.
—Atender seu pedido, Heloísa, foge às minhas incumbências aqui. Mas vou ajudá-la, sim.
Procurei seu prontuário. Escondido nos escaninhos. Por isto nunca havia passado meus olhos por ele. Tentei encontrar o quarto dela. Algo estranho. Primeiro porque naquela papeleta não constava o número do quarto. Nenhum dos funcionários do nosocômio a conhecia pelo nome. Ninguém sabia dela. Ela não existia.
Em cada folga minha eu a procurava pelos jardins. Uma semana depois encontro-a a soluçar, baixinho, olhando uma amassada fotografia em preto e branco. Quando cheguei perto ela a escondeu, com impressionante rapidez, dentro do sutiã.
—Não precisa esconder, minha amiga. Pode me contar seus segredos.
Arregalou os olhos. Pareceu-me que a angústia que roía seu cérebro fluía através deles. Ela sempre fora muito tímida, muito reservada. Desde menina não falava de suas emoções.
—Conte-me. Por que você está aqui?
Então o pranto rolou. Que vissem. Que ouvissem. Eu ali estava para ajudar uma paciente angustiada. Mesmo que fosse no curto espaço de minha folga para um lanche.
Sentei a seu lado e esperei que suas lágrimas cessassem. Foi a mais triste história de amor a história de amor que de seus lábios ouvi.
“Sabe, Anjo — ela me chamava de Anjo desde que éramos crianças — mandaram-me para cá para eu não me encontrar mais com o amor de minha vida. Eu acho que nós nos amamos desde antes de termos chegado a este mundo. Você o conhece. O Antônio de Pádua, aquele menino alto, loirinho, que sempre vinha brincar de pular corda conosco.
Nas férias a gente sempre brincava junto. Corríamos pela linha do trem. De mãos dadas. Ele num trilho e eu no outro. Depois que eu não estava mais estudando ele sempre vinha comprar carne em nosso açougue. Teve um domingo em que ele chegou perto de mim, enquanto estávamos assistindo um jogo no campo de futebol e me deixou dar uma lambida no sorvete que ele tinha na mão. Foi como se fosse um beijo. Minha irmã viu e contou para minha mãe que contou para o meu pai. Desde aquele dia cada vez que ele ia comprar carne no açougue mandavam-me para a cozinha para buscar alguma coisa.
Eu não estava entendendo. Uma vez encontrei meus pais confabulando com meus irmãos mais velhos. Diziam que nós não poderíamos nos misturar. Escutei bem a conversa que foi mais ou menos assim:
– Temos que cuidar bem com as pessoas com quem temos amizade. Aquele piá que vivia conversando com a Isa não é de nossa estirpe. Filho de um reles carregador de lixo aí da serraria. Imigrante, ainda por cima.
Como se nossa família fosse puro sangue azul, descendente de barões do império. Fiquei tão indignada que saí correndo e fui atrás do Antônio dizer a ele que o nosso amor era um amor proibido.
Ele terminaria o científico naquele ano no colégio dos Irmãos Maristas. Depois faria o vestibular para engenharia. Se passasse já teria garantida uma bolsa de estudos. Nossos planos eram os mais malucos possíveis. Eu esperaria ele se formar e enquanto isto tentaria convencer meus pais para também fazer faculdade. Queria estudar Farmácia.
Enquanto conversávamos, sentados na plataforma atrás do armazém da ferrovia, meu irmão mais velho chega, a cavalo, com o chicote nas mãos. Foi o tempo de Antônio sair correndo para um lado e eu em direção à nossa casa. Que ficava ali pertinho, como você sabe.
Prenderam-me em casa. Minha mãe me consolava. Dizia que era para o meu bem. Certo dia mandaram-me arrumar a mala. Disseram-me que eu iria viajar. Foi o dia do maior escândalo da vila. Gritei, esperneei, apanhei. Nada adiantava. Continuava a gritar. Então trouxeram um médico que me aplicou uma injeção. Esmoreci em seguida. Adormeci. No dia seguinte colocaram-me dentro do trem que ia para a cidade grande. Minha mãe chorava e continuava a afirmar que era para o meu bem. Que eu iria estudar. Realizar meu sonho. Que eles fariam tudo para que eu entrasse na faculdade de Farmácia, como eu queria. Meio tonta ainda. Porque encarregaram uma pessoa que se dizia enfermeira para me acompanhar e ir aplicando injeções a cada vez que eu me mexesse ou tentasse abrir os olhos.
Ainda consegui, através de uma nebulosa, ver o Antônio a chorar e a me dar adeus na plataforma da estação. Foi a última vez que eu o vi.”
Consegui encontrar o Antônio de Pádua na Faculdade de Engenharia. Domingo era meu dia de folga. Comprei um bolo para comemorar com Heloísa o aniversário dela. Dentro, uma carta dele. Um plano arquitetado para o dia em que ela tivesse alta. Ele a retiraria do trem e a esconderia em local incerto e não sabido. Tudo ele faria para viverem juntos até o fim de suas vidas.
Meu bolo foi interceptado na entrada. Nem o abraço de parabéns consegui dar em minha amiga. Na segunda-feira, ao entrar na escola para a primeira aula, sou chamada na sala da preceptora do curso. Daquele dia até o final do trimestre, meu estágio seria em uma colônia psiquiátrica distante quarenta quilômetros do centro da cidade.
Depois de formada voltei para trabalhar em minha cidade. Encontrava Heloísa pelas ruas de nossa velha vila. Desgrenhada, roupas largas e longas, olhos perdidos no horizonte da alma… Não conhecia ninguém. Não falava com ninguém.
Retornando um dia à cidade grande para um curso de especialização soube que a tal clínica “moderna” fora fechada. Horrores lá eram praticados! Não apenas terapia por eletrochoques; Que eram quase diários.
Nos resquícios dos prontuários soube-se que muitos pacientes lá internados, por ordem das famílias, pelos motivos mais esdrúxulos, eram submetidos ainda a uma lobotomia. Para que fossem anulados quaisquer resquícios de lembranças do passado.
Encontrando-me, não casualmente, claro, com Heloísa, na rua, parei para conversar com ela. Apenas grunhidos em resposta. Tentei dar-lhe um abraço. Ela se esquivou. Mas consegui passar a mão em sua cabeça. E lá encontrei a terrível cicatriz.
Reminiscências que até hoje me trazem um amargo fel em minha boca. E em minha alma.