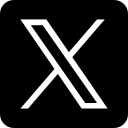Se a pandemia pode nos ensinar algo é que somos uma sociedade violenta
Sandro Luiz Bazzanella*
Luiz Eduardo Cani
Mais de 3 milhões de mortes em âmbito mundial derivados da pandemia de covid-19. No plano nacional, mais de 400 mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia. É o maior número de vidas perdidas deste a Segunda Guerra Mundial. No dia 6 de maio de 2021, uma ação policial na favela do Jacarezinho deixa 28 mortes. Por dia, cinco mulheres foram vítimas de feminicídio em 2020, aponta estudo[i]. Esta crônica poderia ser integralmente desenvolvida com manchetes de violência e mortes gratuitas ao longo de 2020 e, nestes primeiros meses de 2021, seja em âmbito mundial, ou no plano nacional. O objetivo desta crônica não é a transposição de manchetes de jornais impressos e dispostos em plataformas virtuais, mas refletir e desafiar-se a compreender o que estas manifestações de violência e barbárie significam no contexto de mundo e de sociedade brasileira em que nos encontramos inseridos. Ou ainda, de nos questionarmos se o argumento do filósofo e jurista Giorgio Agamben de que estamos em meio a uma guerra civil mundial (stasis) faz jus a exigência de urgente consideração reflexiva e compreensão analítica, como forma de orientação do pensamento e da ação coletiva no atual contexto.
Autores como Hannah Arendt, Michel Foucault, Zygmunt Bauman e Giorgio Agamben, entre outros, salvaguardas as especificidades do pensamento e da obra de cada um destes pensadores demonstram de forma clarividente, que a explosão da barbárie, da violência contra a vida é um fenômeno característico da modernidade. Ou seja, a modernidade estatizou a vida em sua dimensão meramente biológica. O Estado moderno no exercício do poder soberano, ao capturar a vida biológica passou a geri-la, fazendo viver e deixando morrer de acordo com cálculos de custo benefício aplicados à vida de indivíduos e cidadãos. Esta condição, sobretudo Foucault e Agamben designam como “biopolitica” e apontam, juntamente com Hannah Arendt (respeitando as especificidades reflexivas), para o paradoxo constitutivo da modernidade, como um dos períodos da trajetória ocidental em que se produziu extensa legislação com a promessa de preservação da vida, mas ao mesmo tempo se apresenta como o período em que mais se agrediu e se agride, ou se ceifa a vida.
A manifestação de práticas tanatopolíticas próprias do poder soberano no uso legítimo da violência se aprofunda na contemporaneidade diante da centralidade da economia e em detrimento da política. A privatização do espaço público, o declínio do homem público (Richard Sennet) se efetivou com a hegemonia da política econômica (e não da ciência da economia política) que submente aos interesses da economia financeirizada – sob controle de grandes corporações internacionais, bem como de uma rede de especuladores financeiros, também conhecidos como investidores – os interesses vitais de comunidades, sociedades e países. A financeirização do mundo colonizou o mundo da vida, das relações humanas. Transformados em meros produtores e consumidores, merecem “sobreviver” apenas os indivíduos que conseguem se adaptar a lógica competitiva da plena produção e do pleno consumo. Todos os demais seres humanos desprovidos desta capacidade de “adaptação” passam a constar na lista dos refugos humanos. Descartáveis.
Giorgio Agamben ao longo de sua obra, sobretudo em suas reflexões constantes no projeto “Homo Sacer”, demonstra que quando a economia financeirizada, a política econômica de orientação estatal e o direito se fundem, a máquina biopolítica se torna letal. Os refugos humanos assumem a condição de “homo sacer”, são transformados em vida nua. Vida nua é, na perspectiva de Walter Benjamin e retomado por Agamben, a vida destituída, desprovida de direitos, despolitizada. Nem animais, nem humanos. São vidas matáveis porque meramente descartáveis. Desprovidas de “utilidade” para a dinâmica da plena produção e do pleno consumo, desnecessárias a dinâmica da economia financeira global, podem ser eliminadas. São as sobras do sistema. Este trágico cenário pode ser compreendido de forma clarividente na concentração das vacinas contra a Covid-19 por parte dos países desenvolvidos em detrimentos de povos periféricos. É nesta direção, que o perturbador diagnóstico de Giorgio Agamben se apresenta incômodo na atualidade ao apontar para o fato de que o paradigma dos nossos tempos é o campo de concentração. Apenas “sobrevivem” no campo aqueles prisioneiros, aquelas vidas matáveis, que demonstram potencialidade de uso para a dinâmica do sistema. Em alguma medida isso implica em dizer que, de um jeito ou de outro, é necessário morrer: para sobreviver, é preciso devir morte, aderir a uma forma de vida com a qual não concordamos, mas, convertidos nessa forma, já não somos mais integralmente vida, senão apenas meia-vida: a zoé sem bíos.
O Estado brasileiro é o resultado desta lógica econômica e administrativa moderna que se impõe sobre a vida de indivíduos e populações, com o agravante de ser um Estado periférico na geopolítica internacional. Isto significa que a gestão do “campo de concentração” em solo tupiniquim apresenta-se extremamente agressiva. Ou seja, por aqui a violência assume a condição de barbárie. O Estado brasileiro no exercício de seu poder soberano, por meio de suas instituições coercitivas, sejam elas, a polícia civil, militar, o exército, ou mesmo setores significativos do poder judiciário não titubeiam em condenar a morte os refugos humanos, os homini sacri habitantes das periferias das grandes cidades, os afrodescendentes, e todos aqueles indivíduos “inúteis” na lógica de reprodução do capital.
A expressão da barbárie em território nacional se expressa na violência sobre os corpos dos refugos humanos, nas execuções em plena luz do dia, ou na calada da noite, parte delas televisionadas, expostas nas redes sociais, dispostas ao consumo de uma sociedade ávida por adrenalina, por novidades, por sangue. Mas, também por meio da violência simbólica expressa em discursos e ações por parte da elite governamental, que expressa sem pudor aversão ao povo brasileiro retirando direitos sociais, trabalhistas, cerceando o direito à educação, acusando filhos de porteiros, de empregadas domésticas, de garis, de pedreiros, de trabalhadores de consumirem recursos públicos da educação e, portando sugerindo o cerceamento da possibilidade de ascensão dos filhos de milhões de assalariados por meio do direito de acesso a Universidade. Violência simbólica expressa no valor do salário mínimo condenando homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças é um eterno ciclo de reprodução da miséria e de violência sobre seus corpos. Violência expressa nos corpos, na fome de milhões de desempregados e, outros tantos de subempregados.
Violência e barbárie simbólica que assume letalidade ao disseminar fake news, discursos de minimização dos efeitos da pandemia, ao se negar o uso da máscara em ambientes públicos, ao se promoverem aglomerações desrespeitando o isolamento social. Violência simbólica e efetiva que se expressa no negacionismo científico, na imoralidade do uso dos recursos públicos pelos grupos sociais que se locupletam com a atual administração do campo de concentração em solo brasileiro. Violência e barbárie cotidiana mantida e desencadeada gratuitamente por todos aqueles indivíduos que ainda insistem em apoiar o massacre e, os crimes de lesa pátria em curso. Barbárie perpetrada pelos grupos econômicos que com seu poderio promovem a continuidade da barbárie promovida pela economia da morte.
Violência, por fim, de uma espécie não reconhecida pelo Estado brasileiro, mas denunciada pelo poeta alemão Bertold Brecht ainda na primeira metade do século passado (há muitas formas de matar alguém, apenas algumas são criminalizadas), que não deixa opção a maioria da população global senão mergulhar de cabeça e sem proteção no oceano virulento para sustentar o “mercado” sob o imperativo de que a economia não pode parar, pois, do contrário, morreria. Fruto de uma equiparação biologicista de um saber a uma vida, tal sofisma parte da falsa premissa maior da existência da condição viva de algo que jamais poderá ser vida. Soma-se a isso a concepção gerencialista dos Estados-empresas que precisam “dar lucro”, “produzir excedente”. O resultado é uma inversão dos referentes, em um simbolismo do absurdo: a vida do que não é vivo (portanto, o que não existe) importa mais do que toda a espécie que criou a coisa não viva. Ou, mais precisamente: a vida da economia não pode se exaurir, mas os brasileiros nadam no esgoto e consequentemente não ficam doentes. A criatura engole o criador, com os aplausos e o consentimento dele.
Ora, se o Estado promete salvaguardar direitos dos cidadãos, não precisa dar lucro algum. E, se fosse para dar lucro, poderíamos dar o calote nos credores para escapar da armadilha da dívida-culpa. Bastaria não pagar e não prestar contas de nada. Não por acaso, os Estados-empresas fazem isso com todos nós há muito tempo: prometem direitos, não cumprem e não prestam contas ou, quando prestam, há sempre uma desculpa para a não implementação. Eis porque não interessa, por exemplo, discutir o calote em termos de direitos que podem ser aplicados por desaplicação em pleno estado de exceção. Um direito ao calote pertencente a alguns, mormente países europeus, resultaria, para países da periferia do capitalismo, em mais um dever de pagar as dívidas alheias[ii] (como se já não pagássemos a conta há muito tempo: depreciação da moeda, exploração, extrativismo, etc.). A vida não depende de Estado, muito menos de Estado-empresa, e não é necessário que se tenha lucros para dividir. Isso é apenas um mundo, fruto da violentação de todos os outros e de um conjunto de imperativos acelerados que não param de nos bombardear. Como não há tempo para processar, resta a reação imediata aos estímulos. É urgente romper com isso.
Se a pandemia pode nos ensinar algo é que somos uma sociedade violenta. Uma sociedade de bárbaros. Entre nós a vida vale muito pouco. A partir do ethos escravocrata no qual se constituiu e se manifesta esta colônia de exploração e, que ensejou aquilo que nomeamos como sociedade brasileira, uma sociedade de castas, o campo de concentração encontra-se bem aceito e, parte do cotidiano dos brasileiros. Passado o impacto das manchetes anunciando a cada novo evento o número de corpos, as imagens explorando a comoção de mulheres e crianças que invariavelmente são expostas a barbárie das execuções, tudo volta ao “normal”. A partir desta condição passa-se a análise dos comparativos contábeis relativos ao número de corpos resultantes de outros eventos em semanas, ou anos anteriores. Tudo volta ao “normal” com as extensas e intrincadas justificativas do Estado e dos responsáveis por seus aparatos coercitivos. Tudo volta ao “normal” a partir dos labirínticos caminhos percorridos pelo inquérito, que provavelmente não apontarão responsáveis, finalizando na longa e infindável fila de processos que se amontoam no poder judiciário.
Findados os gritos de desespero na praça pública, as notas de repúdio, os discursos de justificação do exercício da violência por parte do poder soberano em pleno estado de exceção, volta-se a rotina diária no interior do campo de concentração onde a barbárie cotidiana e a miséria são a condição da vida dos milhões de brasileiros mal remunerados, explorados, sem direito à educação de qualidade, simplesmente por serem porteiros, pedreiros, garis, domésticas, zeladores, diaristas, prostitutas, professores, gente condenada a vida nua, a execução. Refugos humanos sem utilidade na dinâmica de plena produção e consumo. Trata-se de aguardar a próxima execução em massa, o próximo feminicídio, a próxima agressão discursiva aos porteiros, as domésticas … Findada a trégua promovida pela comoção nacional reinicia a guerra civil intestina e o cronograma de execuções dos refugos humanos habitantes deste campo de concentração.
*Sandro Luiz Bazzanella e Luiz Eduardo Cani são professores